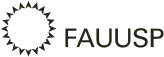João Sette Whitaker Ferreira
Professor de Planejamento Urbano – FAUUSP
Pesquisador do Laboratório de Habitação e Assentamentos Humanos – LabHab/FAU USP
Tomás Antônio Moreira
Secretário Executivo do Projeto Moradia – Instituto Cidadania
Doutorando em Estudos Urbanos – DG UQAM, Canada
Pesquisador do Laboratório de Habitação e Assentamentos Humanos – LabHab/FAU USP
A intensificação da dualidade entre cidade formal e cidade informal tem sido uma constante na estrutura das cidades brasileiras (Maricato, 1996). O ritmo do crescimento dos loteamentos irregulares, das favelas e dos cortiços nas periferias das grandes cidades é mais intenso que a taxa média de urbanização do país. Ou seja, as grandes cidades crescem sobretudo nas periferias, o que tem reforçado a função estrutural da informalidade na composição do espaço urbano. Enquanto São Paulo contava com apenas 1% de áreas de favelas em 1970, em 2000 elas já ocupam 20% da cidade. A quase totalidade das grandes cidades do país têm atualmente em torno de 30% de áreas ocupadas por favelas, chegando as vezes a 50%, como em Belém do Pará (Projeto Moradia, 2000). Em oposição às estruturas urbanas informais, a cidade formal, por sua vez, se restringe a uma parcela do espaço urbano, e contempla apenas uma pequena porcentagem da população.
Essa dualidade se conformou mais efetivamente a partir da década de 50, com a intensificação do processo de industrialização, marcado pela divisão social do espaço urbano e pela extrema desigualdade, características da expans&at;sticas da expansão do fordismo periférico (Benko & Lipietz, 1992; Maricato, 1996), que impôs a constante expatriação dos excedentes (Deak, 1990) em detrimento da construção de um mercado interno mais significativo. Nesse processo, a cidade formal sempre serviu às classes dominantes, e o espaço urbano legal se conformou aos seus interesses. As leis que regulam esse espaço serviram de instrumentos ideológicos dessa dominação (Villaça, 1999). Em compensação, na cidade informal – loteamentos clandestinos, favelas e cortiços – instalavam-se as classes mais desfavorecidas, a grande massa de trabalhadores da indústria fordista. O Estado mostrou-se historicamente ausente e alheio à qualquer obrigação de ordenação ou regulação da ocupação do espaço urbano nas periferias, pois elas na prática não serviam aos interesses do capital. Assim, não se assistiu no Brasil a uma urbanização que efetivasse o equilíbrio do acesso e uso do solo urbano e da provisão de equipamentos e infra-estrutura urbanos para o conjunto da cidade e da sociedade.
ARQUIVOS PARA DOWNLOAD |
| Download do Artigo (PDF | 100Kb) |